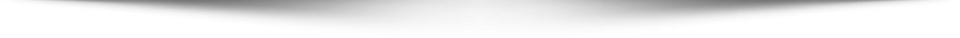Ao faltar ao velório do Rei, jogadores evidenciam total desconexão com o que está verdadeiramente em disputa.
Quando o árbitro alemão Rudi Glöckner trilou o apito encerrando a final da Copa de 1970, uma legião de torcedores invadiu o gramado do Estádio Azteca para arrancar camisas, shorts e até meiões dos recém-consagrados tricampeões mundiais — uma cena, hoje, impensável diante da exagerada segurança e da celebrada assepsia tão propagada pela Fifa.
O preferido, claro, era Pelé. Os mexicanos queriam tocá-lo. Depois, carregaram-no sobre seus ombros já sem parte do uniforme, disputado a tapas como souvenir ou mesmo objetos litúrgicos. O Rei estava nu.
Bem diferente do vaidoso imperador da fábula dinamarquesa, ridicularizado pelos súditos após desfilar completamente despido em seu reino, Pelé foi um monarca amado, admirado e abraçado pelo povo. E assim foi até sua morte.
Mais de 230 mil pessoas estiveram no velório e enterro de Edson Arantes do Nascimento, na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. A multidão calorosa, no entanto, não abafou as sonoras ausências. Dos jogadores campeões mundiais do tetra, em 1994, e do penta, em 2002, apenas Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, esteve presente.
Daqueles que atuaram pela Seleção Brasileira em Copas neste século, Elano e Zé Roberto foram as duas únicas honrosas exceções diante de um escrete cinicamente omisso.
O futebol brasileiro está nu. Completamente nu.
Tal qual o déspota egóico que desfilou pelado crendo no sucesso dos seus trajes invisíveis, nossos jogadores foram apontados por não conseguirem enxergar (alguns com desculpas pífias) o quão grave foi esse flagrante desinteresse ao não prestar reverência àquele que foi o maior de todos.
Nossos craques milionários, forjados em sua esmagadora maioria em comunidades pobres espalhadas pelos rincões do Brasil, não têm mais firmes conexões reais com o mundo que os cerca — nem com o que está verdadeiramente em disputa, muito além de jogos e campeonatos.
Vencer no esporte virou sinônimo de amealhar fortuna e, no máximo, ajudar a família a sair da pobreza. Sim, um gesto nobre e necessário, mas também reduzido e esvaziado da real dimensão que o futebol pode e deve alcançar.
No fim do ano passado, o líder indígena Ailton Krenak, em um artigo escrito para o Intercept, refletiu sobre o elogio ao individualismo. O quanto enaltecer apenas ações particulares e falsamente meritocráticas eclipsam reais experiências coletivas.
Assim escreveu Krenak: “Temos que bagunçar o coreto dessa coisa de produzir como se fosse um gênio, uma pessoa de sucesso, alguém que superou adversidades para vencer na vida. Isso tudo são construções que elogiam o individualismo. Tenho acreditado muito em produções e construções que agreguem o esforço de um grupo. Não a mera superação de adversidades externas para alcançar os louros. Acredito em experiências coletivas que dialoguem e transformem o espaço onde estão inseridas”.
Ironicamente, o futebol é justamente um jogo jogado na coletividade. São 11 atletas, fora técnico, auxiliares e reservas, cooperando por um objetivo comum. O discurso final produzido, entretanto, tem enaltecido muito mais supersalários, quantidade de conquistas individuais (Bola de Ouro, Melhor do Mundo da Fifa) e artilharias.
Há um silenciamento ou uma tentativa de parte da imprensa esportiva de avacalhar as semânticas do futebol que dialoguem com a cultura (músicas, filmes, peças de teatro), educação (livros, ensinamentos) e política (Democracia Corinthiana; ações afirmativas do Bahia).
Pelé é um símbolo do Brasil. É um símbolo do mundo. Foi ministro do Esporte, fez discurso pedindo zelo e atenção às crianças, se engajou na campanha pela alfabetização, parou guerras e, até o fim dos seus dias, foi “o” embaixador do país nos quatro cantos do globo. Teve falhas, sim. Equívocos individuais e má compreensão em temas sobre racismo e democracia, sobretudo.
Seu tamanho, porém, é irrefutável. Beira o absurdo justo os pares — aqueles que acima de tantos outros sabem o quão difícil é jogar em alto nível durante tanto tempo e imprimir marcas indeléveis ao tempo — sonegarem homenagens presenciais ao Rei.
Neymar, dono de jatinhos particulares, preferiu uma festa em Paris. Kaká cobrou valorização dos ídolos da Seleção, mas não foi ao funeral. O goleiro Marcos justificou a ausência em tom de revanchismo. Disse, numa simetria sem nexo causal, que também ninguém foi ao velório dos seus pais.
O Brasil está órfão de Pelé.
Desamparado na ausência daquele que foi declarado Rei exatos 70 anos depois que a última monarquia da América do Sul aboliu a escravidão, ao ganhar a sua primeira Copa, em 1958.
Na terceira, em 1970, quando lhe foram puxadas as vestes, desfilou, de peito nu, sua elegância.
Aqueles que andam em carros de luxo, se empanturram com carnes de ouro, gastam fortunas em festas, mas não quitam suas obrigações legais, estão completamente descobertos, descalços e expostos.